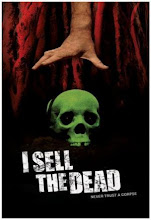Vida e Morte de Uma Gangue Pornô (The Life and Death of a Porno Gang, 2009)
Direção: Mladen Djordjevic
Roteiro: Mladen Djordjevic

Terça-feira passada, dia 13, fui à sala de cinema CineBancários para assistir ao filme Vida e Morte de uma Gangue Pornô, obra a qual, no dia 21, teve anunciada sua conquista do prêmio de Melhor Filme segundo o Júri Oficial no VI Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre (o famoso Fantaspoa). Por se tratar de uma película de horror que participa do Fantaspoa e que possui o vocábulo “pornô” no título, já esperava que alguns litros de sêmen e de sangue jorrassem da tela e que a trasheira ocorresse indiscriminadamente no decorrer da sessão; entretanto, o longa ao qual assisti transcendeu o limite pudico e sanguinolento o qual eu havia traçado previamente em minha cachola.
Vida e Morte... mostra a história de Marko (Mladen Djordjevic), cineasta frustrado que se envolve com o mundo pornô, a princípio por questões financeiras, mas, depois, com uma intenção artística. Marko, após trabalhar para um diretor de filmes adultos e se desentender com o tal, monta um grupo itinerante formado por bizarras figuras que realiza apresentações em pequenas cidades interioranas. Um ricaço convida a excêntrica turma do cineasta a gravar snuffs – o termo se refere a gravações destinadas a um seleto grupo, as quais registram reais assassinatos. Como o dinheiro oferecido era alto e as vítimas seriam voluntárias, a gangue pornô de Marko aceita gravar os vídeos.

Encaro Vida e Morte... como uma sátira/homenagem a cinefilia. Marko anseia criar cinema-arte; isso é perceptível em seu curta gravado na faculdade de cinema o qual provavelmente é uma referência a Eraserhead (David Lynch, 1976), tanto pela fotografia em preto-e-branco, como – principalmente – pela cabeça de porco assada que move suas mandíbulas, encara o protagonista do curta – interpretado pelo próprio Marko – e emana um líquido viscoso de suas entranhas – remetendo ao inesquecível frango que Henry (do primeiro longa de Lynch) encontra em seu prato. Mas o curta de Marko é apenas um detalhe de seu amor pela sétima arte; a maior prova do fascínio da personagem principal de Vida e Morte... é a tentativa (frustrada) da inserção de questões sociais e existenciais no meio de suas vulgares apresentações pornôs. Simbolismos, diálogos que exibem o reflexo da alma, cenas que retratam a condição humana, todos esses pomposos temas e abordagens ficam diluídos no suor, sujeira e fluidos corporais da pornografia de Marko.

Eraserhead (David Lynch, 1976)
Marko atinge seu auge artístico nos snuffs ao incluir monólogos dos voluntários nos quais esses explicam o porquê da desistência da vida. No entanto, como em todo o longa, o tocante discurso dos pseudo-suicidas fica em segundo plano, ofuscado pela brutal matança.
Vida e Morte... extrapola a margem pornográfica a qual seu título propõe com cenas que passam pela zoofilia e pelo sexo explícito; a película também abusa das cenas regadas a sangue e sofrimento as quais foram propiciadas pelos snuffs. A pornografia e – principalmente – a matança perturbam o espectador; entretanto, a surra a qual fui submetido não me agradou, pois senti a falta de uma intenção maior, ainda que essa fosse racionalmente inexplicável. Careci de sentir (mas não entender) uma base artística maior para a obra. Irreversível (Gaspar Noé, 2002), Laranja Mecânica (Stanley Kubrick, 1971), Funny Games (Michael Haneke, 2007), Seul contre Tous (Gaspar Noé, 1998), Anticristo (Lars Von Trier, 2009) e tantos outros longas possuem uma intenção ao nos flagelar, ainda que esse propósito seja semanticamente intangível. Vida e Morte de uma Gangue Pornô é um soco no estômago gratuito.
Mladen Djordjevic (diretor, roteirista e protagonista de Vida e Morte...) é Marko, não em relação à atuação, mas a respeito da estrutura da obra. Mladen revela seu melhor desempenho no momento em que Marko mais se aproxima do cinema-arte ao qual esse tanto ansiava, mas também peca quando sua criação se equivoca. O fato de que Mladen interpreta Marko fortifica esse ponto de vista. Entretanto, os erros de Mladen, ao contrário dos erros de Marko, são intencionais. Marko teve a intenção de criar uma obra que perturbasse (ainda que gratuitamente), que errasse, que misturasse o refinado e o vulgar. O cineasta da realidade erra e acerta simultaneamente. Djordjevic intencionou ser Marko, fazer um tosco cinema-arte misturado com porra e sangue, uma obra pretensiosa frustrada, uma arte calcada nos paradoxos. Entretanto, não me atraiu essa arte vazia, ainda que intencional.

















 Um dos melhores filmes ao qual ultimamente tive o imensurável prazer de assistir foi Ascenseur pour l'échafaud, o primeiro longa de Louis Malle. Aluguei a película por acaso, pois pretendia apenas conhecer alguma parcela do extenso trabalho do cineasta francês; minha sede foi aguçada quando em Los abrazos rotos (2009), de Pedro Almodóvar, a personagem Harry Caine (Lluís Homar) faz uma citação da obra de Malle. A preferência do realizador do qual sou fã catalisou minha curiosidade e inseriu uma obra-prima da sétima arte em meu aparelho de DVD.
Um dos melhores filmes ao qual ultimamente tive o imensurável prazer de assistir foi Ascenseur pour l'échafaud, o primeiro longa de Louis Malle. Aluguei a película por acaso, pois pretendia apenas conhecer alguma parcela do extenso trabalho do cineasta francês; minha sede foi aguçada quando em Los abrazos rotos (2009), de Pedro Almodóvar, a personagem Harry Caine (Lluís Homar) faz uma citação da obra de Malle. A preferência do realizador do qual sou fã catalisou minha curiosidade e inseriu uma obra-prima da sétima arte em meu aparelho de DVD.

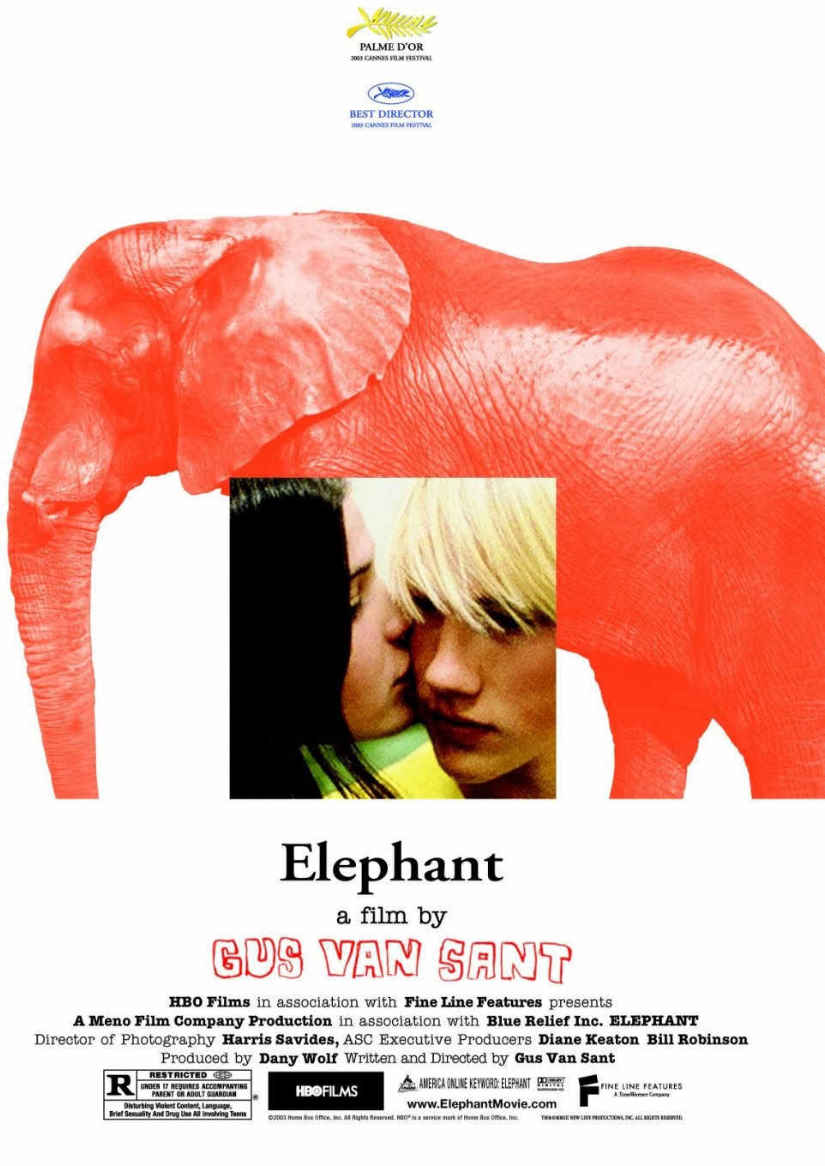 Gus Van Sant é um cineasta que possui duas facetas completamente distintas. A primeira, composta por traços leves, rasos, facilmente assimiláveis e excessivamente doces, é exibida em longas de cunho comercial como Finding Forrester (2000) e Good Will Hunting (1997); esse semblante, ao simplificar e açucarar demasiadamente suas feições – tanto na estética das obras, quanto no roteiro -, mostra-se pouco atrativo e às vezes até clichê. O outro lado do estado-unidense é marcado por uma beleza ímpar; Van Sant transforma sua câmera em um pincel e compõe excelentes quadros que retratam de maneira extremamente harmônica algumas das diversas condições da natureza humana. Essa segunda vertente está claramente presente nas películas Paranoid Park (2007) e Elephant (2003).
Gus Van Sant é um cineasta que possui duas facetas completamente distintas. A primeira, composta por traços leves, rasos, facilmente assimiláveis e excessivamente doces, é exibida em longas de cunho comercial como Finding Forrester (2000) e Good Will Hunting (1997); esse semblante, ao simplificar e açucarar demasiadamente suas feições – tanto na estética das obras, quanto no roteiro -, mostra-se pouco atrativo e às vezes até clichê. O outro lado do estado-unidense é marcado por uma beleza ímpar; Van Sant transforma sua câmera em um pincel e compõe excelentes quadros que retratam de maneira extremamente harmônica algumas das diversas condições da natureza humana. Essa segunda vertente está claramente presente nas películas Paranoid Park (2007) e Elephant (2003).